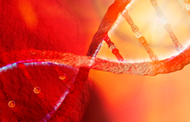Com o sucesso de ensaios clínicos e as aprovações dos primeiros medicamentos baseados em alterações do DNA, cientistas começam a buscar formas de tornar o tratamento acessível dentro dos próximos anos
Andressa Basilio
A americana Ashanti DeSilva tinha apenas 4 anos quando entrou para a história. Nascida com uma doença rara autoimune que a deixava suscetível ao ataque de qualquer micro-organismo (deficiência de adenosina deaminase), ela se tornou a primeira paciente do mundo a ser tratada com terapia gênica, técnica minuciosa que introduz genes sadios no organismo para substituir, manipular ou suplementar genes inativos ou disfuncionais. O procedimento, realizado em 14 de setembro de 1990 pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, foi um sucesso. Seis meses após o tratamento, suas células defeituosas atingiram níveis normais. Nos dois anos seguintes, a saúde melhorou consideravelmente e sua baixa expectativa de vida se transformou em uma trajetória longa, saudável. Começava então uma nova era para a medicina moderna.
O avanço da genética através dos anos, com o sequenciamento do genoma humano e a decodificação de informações obtidas a partir dele, permitiu aos cientistas desvendar a origem de muitas doenças. Algumas infecções, por exemplo, começam com uma variedade de genes que afetam a resistência do organismo. Outros genes influenciam o risco de condições neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer. Porém, há certas doenças, conhecidas como monogênicas, que têm sua causa associada a mutação de um único gene. Estima-se que 80% das doenças raras são de origem monogênicas.
É justamente para estes pacientes que a terapia gênica surge como uma nova esperança. Ao modificar em laboratório o genoma, com a introdução de um gene sadio na célula para que ele corrija as imperfeições, os médicos trabalham com chances elevadas de cura. E a boa notícia é que as pesquisas nessa área só avançam. Desde 2015, a Europa comercializa o primeiro medicamento baseado em terapia gênica do mundo, destinado a pessoas com deficiência de lipase. Dos 200 pacientes já tratados com o remédio, chamado Glybera, 50% foram considerados curados.

Crédito:Shutterstock
“A aprovação e o sucesso do tratamento abriram as portas para novas pesquisas na área”, afirma Guilherme Baldo, professor de fisiologia genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS). No início deste ano, a Europa aprovou um novo medicamento, dessa vez voltado para pacientes com imunodeficiência severa combinada (SCID). O índice de sucesso, segundo os cientistas, é altíssimo, com chances de cura que chegam a 80%.
Porém, como toda tecnologia nova, o tratamento ainda é restrito. O Glybera, por exemplo, é um dos medicamentos mais caros do mundo, ao custo de US$ 1,4 milhão (aproximadamente R$ 4,6 milhões). Baldo explica que mesmo apesar do alto custo, os medicamentos baseados em terapia gênica podem, no futuro, representar uma vantagem financeira para o tratamento de doenças raras. “Um paciente com erro inato de metabolismo, por exemplo, costuma desembolsar meio milhão de reais por ano com o tratamento. Com a terapia gênica, uma dose única deve bastar para que ele seja curado”.
Engenharia genética
Colar um gene sadio na célula de um paciente não é nada fácil. Nos últimos 30 anos, os pesquisadores têm voltado energia para descobrir a melhor maneira de fazer isso. O professor Sang Han, do departamento de biofísica da Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e um dos maiores pesquisadores do tema no Brasil, explica que hoje são usadas duas técnicas diferentes. A mais comum, utilizada em 2/3 dos estudos clínicos, consiste em transportar material genético modificado por meio de um vírus inativo.
Esse material, que pode ser injetado diretamente no paciente ou misturado às células extraídas em laboratório, mistura-se aos genes do paciente e pode causar três efeitos: aumento de resistência celular, estímulo de células de reparo ou regeneração ou recomposição de características funcionais específicas de determinados sistemas orgânicos.
A segunda maneira de realizar a terapia gênica é por meio de uma técnica chamada de CRISPR. Conhecida como edição genômica, ela usa uma espécie de tesoura molecular para quebrar um gene específico no DNA. “Diversas doenças genéticas são causadas por uma alteração na sequência do DNA num ponto específico. Com essa técnica, a gente usa uma proteína nuclease para cortar a mutação fora e, ao mesmo tempo, entregar uma versão normal do gene, que estimula o reparo do gene pelo próprio organismo”, explica Guilherme Baldo, que vem trabalhando no aperfeiçoamento do método, que apesar de promissor ainda é desafiador. “Se esse sistema quebrar um pedaço do DNA que é importante para a célula, por exemplo, um gene supressor de tumor, o paciente pode ter sério efeito colateral”.
Futuro distante?
Há, no mundo, entre sete e dez mil doenças monogênicas conhecidas. Para combatê-las com terapia gênica seria preciso desenhar um sistema próprio para cada uma delas, com variedade de vetores e formas de administração do medicamento. Além disso, para que uma droga seja lançada no mercado, ela precisa ser testada em três fases, o que envolve anos de estudo clínico, centenas de voluntários e meio bilhão de dólares para cada fármaco desenvolvido.
Apesar da dificuldade, o futuro é promissor. Segundo o pesquisador Sang Han, hoje existem mais de dois mil protocolos clínicos esperando para serem avaliados pelos órgãos responsáveis pela aprovação de fármacos. No Brasil, há aproximadamente 20 grupos de pesquisadores dedicados às investigações que envolvem terapia gênica. Em 2008, o primeiro teste em pacientes realizado com tecnologia própria foi coordenado por Han, em parceria com o cirurgião cardíaco Renato Kalil, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Na época, 13 pacientes com cardiopatia isquêmica -estreitamento de vasos sanguíneos que desequilibra a oferta de oxigênio ao coração – foram tratados com terapia gênica para reparar os genes responsáveis pela má-formação dos vasos.
Os avanços são inegáveis, porém a terapia gênica ainda é considerada uma técnica experimental, como explica Rafael Linden, pesquisador do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Há obstáculos importantes a vencer, já que a interferência no genoma é um procedimento de alta complexidade, que exige cuidados extremos na determinação da segurança do processo, antes mesmo de se examinar sua eficácia”, diz.
Segundo o especialista, mesmo em casos em que pacientes foram testados com segurança, a novidade do tratamento exige que estas pessoas sejam acompanhadas ao longo dos anos para que se ateste a eficácia da tecnologia. A oferta de medicamentos, tanto pelo poder público quanto pelo setor privado, também implica em uma relação de custo-benefício. Porém, o avanço das pesquisas provoca uma mudança de foco que pode trazer ainda mais esperança aos pacientes de doenças raras, como explica Linden: “Se antes as preocupações se limitavam aos aspectos mais técnicos de segurança, hoje a comunidade científica está procurada em tornar a tecnologia economicamente viável e cada vez mais acessível”.